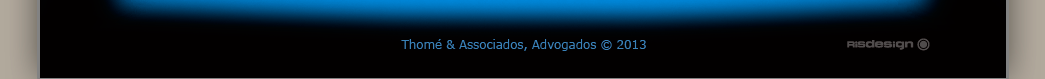|

A Responsabilidade Social do Juiz – por Rafael Bernardes Lucca
Publicado em agosto 23, 2012
A função judicante vem exercendo um papel cada vez mais presente na vida do cidadão dentro do Estado Democrático Constitucional de Direito brasileiro.
Ao consagrar o direito abstrato de ação, transformando-o no direito de simplesmente submeter demandas à apreciação do Judiciário, dissociando o direito de ação do direito substantivo a ela correspondente como fazia o Código Civil de 1916, a Constituição da República oportunizou o surgimento de quaisquer demandas tendentes à efetivação dos direitos garantidos pelo ordenamento jurídico, por meio do seu art. 5º, inciso XXXV, segundo o qual a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Além disso, inúmeros dispositivos infraconstitucionais trouxeram institutos jurídicos e instrumentos que aumentaram a acessibilidade ao Judiciário, além de trazer para a nossa práxis espécies de demandas “importadas” de outros sistemas jurídicos, como do Common Law.
A Constituição da República de 1988 “superou o esquema de mera estruturação básica do estado e o estabelecimento de direitos individuais negativos, expandindo sua regulamentação aos direitos sociais, econômicos, difusos e coletivos a serem viabilizados pelo ente estatal mediante prestações positivas, ações e programas concretos, isto é, políticas públicas”, de modo que a “exigibilidade desses novos direitos, constitucionalmente assegurados, conduziu a uma modificação do papel assumido pelo Poder Judiciário, o qual se torna parte do processo político”.[1] Dessa forma, mesmo essa gama de direitos sociais e econômicos, que outrora eram relegados ao status das chamadas normas meramente programáticas, nomenclatura que era utilizada exatamente para negar aplicabilidade imediata e eficácia plena a tais normas, hodiernamente dispõem de instrumentos de efetivação perante o Poder Judiciário, que não se exime e nem pode se eximir de lhes garantir a devida eficácia e efetividade.
Tais inovações armaram o palco para que o Judiciário não só fosse mais procurado, ante a consagração constitucional do acesso à justiça, que deve ser efetivado em meios e substância, mas, também, para que a já nobre profissão do magistrado assumisse posição ainda mais importante dentro do Estado constitucional e contornos decisivos na vida dos jurisdicionados.
Primeiramente o acesso ao Judiciário realmente cresceu.
É de comezinho conhecimento que a cultura brasileira retrata uma preferência pela judicialização dos litígios e não pela composição alternativa do mesmo, ao contrário de outras culturas, nas quais a mediação e a arbitragem são privilegiadas à intervenção do Judiciário na composição da lide. O aumento dos meios de acesso à justiça do período da redemocratização para os tempos atuais, naturalmente fez com que a demanda pela intervenção do Poder Judiciário crescesse de forma galopante. Segundo dados divulgados pelo IBGE de 1990 até 2002, enquanto a população cresceu algo em torno de 20% o número de processo aumentou cerca de 270%[2] e do ano de 2002 para o presente ano (2012) o aumento do afluxo de demandas foi ainda maior. Por exemplo, apenas no primeiro semestre de 2012 só o Superior Tribunal de Justiça recebeu 119.738 processos (Informação veiculada no site do Superior Tribunal de Justiça:http://www.stj.jus.br/portal_stj/publicacao/engine.wsp?tmp.area=398&tmp.texto=106237, acesso em 29.06.2012).
Esse aumento exponencial da procura pelo Judiciário faz com que as decisões judiciais tenham uma carga de conformação social muito maior do que jamais tiveram.
O advogado e o Juiz, atores engajados na realidade judiciária e na vida quotidiana do processo e das contendas entre os particulares, sabem, por óbvio, a influência e a carga de modificação que a decisão judicial (não só a sentença propriamente dita) exerce na vida do jurisdicionado. Isto porque a decisão judicial declara direitos e obrigações, manda, condena, além de constituir direitos e situações jurídicas de privilégio e sujeição, conformando a esfera existencial de cada pessoa que procura o Judiciário para compor a sua lide. Ou seja, a própria vida do jurisdicionado é modificada e muitas vezes até direcionada pela atuação do Judiciário.
Temos daí que as decisões judiciais, sejam as proferidas em casos entre particulares pelo Juiz singular, com efeito inter parte, sejam as de efeito erga omnes, são reais instrumentos de conformação da realidade social, em pequena, média e larga escala.
Em pequena escala, pois, como se viu, a decisão judicial tem o efeito de modificar a esfera existencial de cada uma das partes envolvidas no processo. Em média e larga escala, pelo fato de vivermos em sociedade e, assim, estarmos sempre, ainda que minimamente, em contato com o nosso círculo social e familiar. A esfera existencial da pessoa humana não é um círculo estanque, dentro do qual gravitam elementos que influem apenas no indivíduo. Cada existência humana é um círculo que tem interseções com outras existências, que entram em contato com outras existências, e assim sucessivamente. Sendo assim, as drásticas modificações que a decisão judicial impõe tem conseqüências sociais pela interdependência entre os indivíduos, que faz com que cada decisão judicial seja um fato profundamente conformador da realidade social. Não se poder olvidar também que a decisões judiciais ainda vêm interferir no corpo social pela soma das decisões proferidas para determinados grupos, ainda que sejam proferidas em demandas individualmente propostas, v.g., os consumidores, os usuários de serviços públicos e particulares, etc.
Importante salientar que não é apenas através do acesso à Justiça mediante a atuação jurisdicional nas ações propostas por particulares que o Poder Judiciário vem se aproximando das contendas e propriamente da vida do jurisdicionado: políticas públicas e omissões estatais vêm sendo como nunca antes controladas pela atuação do Judiciário; com a introdução das colletive injunctions e class actions do Direito americano, e, logicamente, da sua incorporação ao Direito brasileiro, com as devidas adaptações e contribuições da nossa própria doutrina e jurisprudência, direitos coletivos e interesses difusos vem tendo defesa e salvaguarda mais efetiva por meio da atuação do Ministério Público e dos demais órgãos legitimados; tudo isso e muitas outras incontáveis hipóteses quotidianas, que frente ao diminuto objeto deste artigo não cabem aqui ser descritas com mais vagar, culminaram numa atuação mais presente do Judiciário na vida do cidadão.
Muito além do aumento do alcance do Judiciário, o poder de ingerência do Juiz na vida do jurisdicionado foi aumentado, haja vista a posição garantidora de direitos que este assumiu dentro do nosso Estado de Direito.
Com o advento do constitucionalismo moderno e a introdução de cláusulas abertas na legislação, sobretudo no Código Civil, a jurisdição brasileira vem dia-a-dia incorporando características outrora típicas apenas do sistema Common Law. E isto não só pela importação de institutos jurídicos, que vêm sendo incorporados no nosso ordenamento, como as já citadas ações coletivas, mas também por uma modificação do comportamento exigido do Juiz, que gradativamente deixa de ser o magistrado atônito, la bouche de la loi, que apenas declarava o Direito posto pelo poder Legislativo, e que culturalmente era amarrado pela estrita separação de poderes. O Juiz passa a ser criador e não mero declarador do direito pré-posto; o ativismo judicial vem crescente, de modo que a atuação do Juiz reclama uma conformação ativa da realidade social, mediante uma atividade criativa, diante da qual interpretando integrativamente as regras e princípios jurídicos do ordenamento, o Juiz vem a suprir eventuais deficiências do texto normativo ou omissões executivas, dizendo o Direito, e muitas vezes invadindo esferas que antes eram atribuídas apenas ao Poder Executivo (controle de políticas públicas e efetivação de direitos sociais) e ao Poder Legislativo (omissões inconstitucionais). A guisa de exemplo não é raro vermos o Supremo Tribunal Federal realizar interpretação conforme a Constituição, criando normas jurídicas em casos de omissões inconstitucionais do legislador, como foi o caso do julgamento da união homoafetiva (ADI 4277 e ADPF 132 de 2011).
Todos esses poderes, toda essa ingerência na vida dos indivíduos e de todo o corpo social, reclamam que o Juiz assuma uma responsabilidade social dentro da atividade judicante, tal qual diversas empresas já fazem, assumindo compromissos e deveres anexos na sua prática corporativa. A atividade jurisdicional agora reclama uma atuação responsável em todas as acepções da palavra, devendo o Juiz obedecer regras quanto a responsabilidade social, não por obrigação legal, como no caso da responsabilidade civil aplicada à atividade jurisdicional, mas sim por conta de um dever ético e moral, de solidariedade e de prestação de um serviço público de qualidade ao jurisdicionado.
A essa responsabilidade, que a priori se atribui um conteúdo eminentemente ético e moral, também guarda sua fonte na Constituição da República. Isto porque a Constituição determina em seu art. 3º que são objetivos do Estado Democrático de Direito brasileiro construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação, objetivos que só são alcançáveis com uma jurisdição socialmente responsável e preocupada com as conseqüência sociais da sua atuação. A previsão constitucional logicamente é vinculante, o que torna tal conduta de conteúdo ético e moral exigível do Juiz, de forma que a responsabilidade social é, inclusive, passível de controle pelo próprio Poder Judiciário.[3]
Como vemos em artigo de Vladimir Passos de Freitas, no âmbito da responsabilidade social o Judiciário pode agir em duas frentes: no próprio exercício da jurisdição e como Poder Público.[4] Não tratamos aqui de projetos sociais dos Tribunais enquanto Poder Público, mas sim da salvaguarda da sociedade pela jurisdição, e isso, não só mediante a efetivação de direitos sociais e políticas públicas pelas ações competentes, mas, preponderantemente, da atuação consciente e responsável do Juiz perante a sociedade em todos e em cada caso que lhe é submetido.
Propomos, então, três standards básicos, que, se seguidos, a nosso ver, fariam com que a responsabilidade social do Juiz estivesse, pelo menos, minimamente, cumprida.
[1] JUNIOR, Samuel Meira Brasil. CASTELLO, Juliana Justo Botelho. O cumprimento coercitivo das decisões judiciais no tocante às políticas públicas in O Controle Judicial de Políticas Públicas (coord. Ada Pellegrini Grinover e Kazuo Watanabe). Rio de Janeiro: Forense, 2011, p.472.
[2] Maria Aina Sadek em estudo disponível em http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-62762004000100002, acessado em 05 de março de 2012 às 18:00.
[3] Tal característica é digna de nota e por isso está sendo citada aqui. Todavia, os meios de controle da responsabilidade social do Juiz merecem um estudo próprio, ainda mais tendo em vista que o presente trabalho se restringe ao conteúdo material desta espécie de responsabilidade.
[4] FREITAS, Vladimir Passos de. Responsabilidade Social do Juiz e do Judiciário inRevista CEJ, Brasília, Ano XIV, n. 51, p. 6-13, out./dez. 2010.
|
|